
Steven Spielberg não deixa de nos surpreender, para além de ser realizador de alguns dos melhores filmes das últimas décadas do século XX (Parque Jurássico, A Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan), trouxe no novo milénio outras histórias dominadas pelo digital (A.I. Inteligência Artificial, Relatório Minoritário, Guerra dos Mundos e As Aventuras de Tintin: O Segredo de Licorne) comprovando como é um realizador puramente hollywoodesco, capaz de enveredar por diversos géneros mas obedecendo às convenções narrativas tão próprias desse sistema. O mesmo acontece em A Ponte dos Espiões.
Neste seu novo projeto volta a trabalhar com Tom Hanks (algo que já não acontecia desde Terminal de Aeroporto, em 2004), que interpreta o advogado americano James Donovan, responsável por negociar a troca do capturado piloto americano Francis Gary Powers (Austin Stowell) pelo inteligente espião russo Rudolf Abel (Mark Rylance) num momento crítico da Guerra Fria (1957-1961).
O centro da trama não poderia ser mais nacionalista, uma vez que em quase todo o filme somos conduzidos pelo olhar subjetivo de Donovan entre grandes salões da potência americana que se queria (e quer) valer. Em contrapartida, A Ponte dos Espiões serve para criticar de algum modo a política desse país, que pretende muitas vezes fazer fora aquilo que não faz dentro. Donovan é um homem prestável nos seus serviços, desejoso por alguma justiça no seu país e que respeita como ninguém as regras redigidas na Constituição Americana (“o livro das regras”, com é denominada), ao contrário de outros mais grosseiros cidadãos, impacientes por mandar Rudolf Abel para a cadeira elétrica. A juntar ao facto é um homem dedicado à sua família e de muita cumplicidade para com a sua mulher (Amy Ryan) e três filhos, cuja vida é colocada em risco. Todo o filme é dominado por um género muito próprio de Hollywood, às vezes até esquecido nos dias de hoje, o melodrama. Assim, será revigorante entender o filme em três elementos que lhe estão intrínsecos: o excesso, a repetição e claro, o sentido primeiro da palavra melo – a música.
Toda a narrativa é dominada por excessos, como por exemplo, a figura de um juiz, puramente americano Byers (Dakin Matthews), que tanto demora a se arranjar para a sessão que, supostamente definirá o futuro de Rudolf Abel. Este momento é também ágil em criar excessos de ansiedade no seu espetador, já outros casos vão sendo expostos no decorrer do filme, quer seja no momento em que Donovan viaja para a Alemanha, em plena construção do Muro de Berlim (na tentativa de negociar as condições de troca dos espiões), ou quando lá insiste em querer arrumar o assunto e regressar a casa, antes de que se constipe. A repetição de conversas coloca o protagonista sempre no frente a frente com qualquer outro homem, e no meio deles está instalada uma divisão – o diálogo parece ocorrer entre o muro. É esse mesmo excesso que torna propícia a existência de sarcasmos – também marca do melodrama.
Outro aspeto fundamental que se repete é a presença dos meios de comunicação como jornais, cartas, telefones e a televisão – talvez os verdadeiros espiões das nossas vidas, que em épocas de conflito adquirem maior relevância na sociedade. Ora criticam Donovan por defender um soviético (na performance bem cuidada e elaborada de Mark Rylance) ora tornam-o herói que a nação americana sempre precisa.
A banda-sonora de Thomas Newman (que substitui John Williams nas colaborações com Spielberg) cujos ritmos angustiantes, intensos e também eles repetitivos – porque se conjugam no tema final -, pressionam o espetador naquele ambiente de intrigas e sobretudo na luta renhida por informação. Note bem o rigor histórico com o paralelismo entre uma Europa que nos anos 50 não é território a pisar, ao contrário dos Estados Unidos que no final de contas é um país que sempre vence, o El Dorado do progresso – na cena de Donovan a olhar pela janela do comboio em Berlim ocorre algo de inesperado, próximo àquilo que vê pela janela do metro em Manhattan.
Neste thriller de espionagem que serve de homenagem aos filmes do género que estiveram em voga na América por muitos anos, Spielberg não deixa nenhum elemento escapar e se o argumento é redigido pelos irmãos irmãos Ethan e Joel Coen (juntamente com Matt Charman) também eles senhores de Hollywood, o mesmo poderemos dizer da escolha de Tom Hanks para protagonista – uma das maiores estrelas desse cinema, vencedor de dois Óscares da Academia. Entretanto, a ironia emerge porque uma das razões para o desaparecimento do melodrama enquanto género majoritário foi a crescente disseminação do (mais barato) medium televisivo – que ocorreu nos anos 50, período em que o filme simultaneamente se desenrola.
O melhor: O facto da indústria mainstream ser ainda capaz de espelhar Hollywood de outrora.
O pior: O pequeno poder que o melodrama tem nos dias de hoje, quando na verdade é o ‘pai’ de todos os géneros cinematográficos.
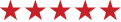
Virgílio Jesus

