Pode não ser tão inventivo como outros tributos a eras de um passado mais ou menos, mas à sua maneira modesta, este “biopic” claramente enamorado pelo seu tema é um triunfo, e preenche um certo vazio racial no género.
«Dolemite is my name, and fucking motherfuckers up is my game.»
Esta pode não ser uma frase tão icónica para a história da sétima arte como “Bond, James Bond“, mas a figura de Dolemite, persona inventada por Rudy Ray Moore, carrega em si toda uma reflexão sobre a cultura “blaxploitation” sobre a qual se insere, e como esta dialoga com o “camp”, precedendo até pelo caminho o género musical rap.
Se a branquitude do tão mau que é bom já foi várias vezes abordada (de Ed Wood a Um Desastre de Artista) e se o amor pelo blaxpoitation foi talvez melhor traduzido para o mainstream por um branco (Quentin Tarantino, que me perdoe Spike Lee), Dolemite is My Name representa, pese os exemplos mencionados acima, um preenchimento de um certo vazio racial no género “biopic de cromos artistas”, mesmo que preenchido por outros homens brancos – nomeadamente o realizador Craig Brewer (Hustle & Flow), ao propôr um “biopic” que dialoga tanto com a figura central como se distingue por manifestar claramente o seu enamoramento com o género e a era em que se insere.
Num papel que parece ter sido escrito para si, Eddie Murphy preenche assim o ecrã com o seu carisma a transpôr uma estrela acidental fura-vidas, uma identidade fraude, que consegue finalmente sucesso roubando anedotas ao vagabundo que visita acidentalmente a loja de discos onde se vê condenado a trabalhar. Daí, o salto do stand up para a música, e consequentemente para a sétima arte, parece tão instantâneo como natural. Só que o estilo brejeiro de Rudy Ray/Dolemite é tudo o que os grandes produtores não querem na altura, sobretudo não com esta cor de pele – o que o força a seguir a via “faça você próprio”: transformando uma casa abandonada sem eletricidade em estúdio, por exemplo. Se a interpretação de Murphy é sempre consistente, é precisamente nesta transição de fura-vidas para grande sonhador antes de Tommy Wiseau tentar a sua sorte que o filme ganha nova pulsação e a comédia realmente nos conquista pela dimensão da farsa, entre o ridículo e o tocante (lembrando aqui mais felizmente o humanismo na cromice de Frank Oz no subestimadíssimo Bowfinger que o gozo simples em colagem pop de James Franco).
Ajuda ter um Wesley Snipes nunca melhor, a sorver tão bem quanto Murphy o gozo enamorado do que lhe foi escrito por Scott Alexander e Larry Karaszewski (Larry Flynt e… Ed Wood), um ator convidado a ser realizador do projeto de Rudy Ray, num rol de reações que mereceriam um filme aparte e tem tudo para alimentar o tumblr, convidando assim mais espectadores. E se Murphy está a ter conversa de Oscar, haja justiça para incluir também Snipes na conversação.
2019 está a ser um fechar de década interessante para cartas de amor ao cinema, de Tarantino a Almodóvar. O melhor elogio que se pode fazer a este “biopic” tão previsível como desinteressado em ser revisionista é que não fica assim tão atrás destes dois grandes nomes como se pensaria. Um pequeno triunfo, talvez fácil de passar ao lado, mas que merece no mínimo um visionamento.
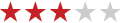
André Gonçalves

