A criação de monstros em trabalhos literários e semiliterários é tão antigo que quase parece inerente ao humano. Desde a mitologia que procuramos dar cara aos horrores que não conseguimos explicar, uma maneira de culpar a morte e desaparecimentos no outro em vez de enfrentar e fugir ao negrume que se encontra dentro de nós. No entanto, o monstro de Mary é um pouco diferente, não nascido do fantástico, do inexplicável mas sim vindo do progresso ,da ciência, “do que o moderno prometeu”. Mas não é por isso que este monstro não deixa de ser por si também uma alegoria. Como toda a boa literatura, o monstro em Frankenstein é algo que está em vez de algo, desta vez uma transposição das amarguras e perda de Mary. Criou-se assim a Ficção Científica, inventou-se assim a arte de criar arte inspirada pelo progresso científico.
A ironia do género ter sido inventado pela mulher quando este na atualidade é tão forçosamente reclamada pelo homem têm o seu quê de catártico. A insistência de o homem continuar a construir muros feitos de omissão, questionação e desprezo da participação da mulher de qualquer género mas especialmente de um que ela “inventou” é representativo da nerd culture em geral. Vai-se assim repetindo esta narrativa de o homem como o portadores da chave da cultura. E este é um ponto em que o filme toca. Mary ao longo do filme depara-se com pessoas que afirmam que o seu fraco coração não aguenta as histórias de terror e fantasia que ela deseja ler e que a sua mente não é forte suficiente para ter produzido tão marcantes palavras.
E este é um filme de palavras, a escrita é lindíssima, mesmo que muita retirada do livro e diários da Mary, mesmo que não esteja nas suas mãos ou no ecrã é proferido pelas restantes personagens e quando isso acontece é de tirar o fôlego. Reflexões sobre o que a sociedade exige, sobre as promessas inaudíveis, sobre o que é perder e sobre o que é amar são o ponto alto do filme. Infelizmente, estas perdem-se no desnecessário e inacabável pormenor da narrativa. A realizadora emaranha-se em todos os aspetos mais melodramáticos da vida de Mary. Claro que é impossível desvalorizar a importância da história da vida da escritora na sua obra prima, uma vez que como podemos ver no filme as duas estão em permanente ligação, mas parece haver uma falta de direção artística para fazê-lo.

Existe outro aspeto curioso neste filme. Este põe a descoberto todo o que foi feio e sádico nas pessoas à volta de Shelley e quase se esquece dela. Faz de Mary um ponto de luz em toda a escuridão mas retira-lhe a humanidade. Podemos até afirmar que os monstros destes filmes são os homens à sua volta, não todos os homens, mas aqueles que têm protagonismo são monstruosos suficiente para ficarmos com essa impressão. Quando relacionamos com a identidade da realizadora Haifaa Al-Mansour, que foi a primeira mulher realizadora da Arábia Saudita (Wadja), poderemos espetacular a relação desta dada a mistificação com o papel que a mulher ocupa na maior parte da sociedade saudita e como esta vê o sexo masculino.
Os problemas aparecem, porém, quando por ser uma cinebiografia, os factos não podem ser ignorados e logo existe um confronto entre texto e no que é mostrado. Tendo que, ao contrário de Mary que no seu livro escreveu o monstro de modo a que nos apercebemos que se tivesse havido uma palavra de simpatia e compreensão perante este, a atitude deste tinha sido diferente, mais humana (palavras do filme), as personagens masculinas no filme foram escritas de modo a que não houvesse retorno possível para elas, que nada consegue voltar a transformar a fera num homem. Por isso, quando a Mary perdoa ficamos sem saber porque alguém continuaria a beijar um sapo se este nunca se irá transformar num príncipe.
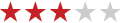
Raquel Soares

