
A adaptação de livros para o grande ecrã é uma prática que se vive quase desde o início do Cinema, mas não deixando de ser por isso uma tarefa complicada. Inúmeros casos de adaptação passam despercebido, sendo que o filme e as palavras que o inspiram estão quase que desligadas um da outro. No entanto, nos últimos anos têm surgido muitos casos em que o marketing do filme está assente no facto de este ser uma adaptação de livro bem-amado com o intuito de arrastar legiões de fãs para as salas de cinema. Fãs, estes, que muitas vezes não saem felizes por os filmes não serem a cópia exata
O facto é que o filme tem a sua própria linguagem, completamente distinta do livro. É uma arte diferente. Como diria a escritora Rainbow Rowell “Um livro é algo vivo, é algo que ,quando o queres transformar num guião, tens que o matar. Tem que dizer: “está aqui um lindo cão mas agora preciso que sejas um gato. Então precisas de chaciná-lo e de alguma maneira voltar a trazer-lhe a vida, mas como um gato.” Tem que ser diferente”. Esta tendência recente de “não matar o livro”, tem vindo a prejudicar várias adaptações com potencial. O problema é que matar não é sinónimo de descartar, apenas livrar do corpo (do formato físico) e preservar a alma.
Desde os primeiros momentos torna-se claro que The Bookshop ainda esconde um livro com um coração ainda bater. Logo na primeira cena é nos apresentado um narrador que faz um monólogo que parece copiar palavra por palavra da introdução do livro, para além disso, informa-nos como as personagens estão a sentir em diversos momentos, carregando-nos ao colo, não deixando os atores e o realizado cumprir o seu trabalho.
Assim, o filme parece encontrar a sua hamartia logo na sua origem. O guião é em si fraco, não por falta de competência dos escritores propriamente, mas por uma falta extrema de conflitos na narrativa. Nada acontece, nada de suficiente relevante suficiente para nos manter agarrados. As personagens e o ambiente geral ,como já referi, tem o seu interesse, quase saídas de um livro da Joanne Harris ( para os não amantes de livros, trata-se da autora de Chocolate) mas não é o suficiente para carregar uma “não-história” pontuada por alguns bons diálogos. Somente o fim possui algum peso e emoção agarrado a ele, o qual ficamos sem saber se a culpa é do livro que pode funcionar como tal (sendo suficiente ter um cenário pitoresco e personagens tão puras que não pertencem à realidade, tal não se traduz no ecrã) ou se os produtores tomaram más decisões durante o processo de adaptação.

Com isto não dizendo que a técnica do filme seja ausente de charme. A pequena cidade britânica junto ao mar dá direito a momentos de fotografia lindíssimos: seja a captura do tempo instável de Inglaterra ao longo de rochosos penhascos, seja os pequenos momentos esplendorosos de festas de retalhos dourados ou mesma quando nos encanta com a magia de uma pequena loja de livros nos anos 20 (vamos ignorar o facto que nas prateleiras da mesma loja estarem livros que eu reconheci como novas edições de clássicos que uma FNAC costuma ter). Depois temos a interpretação de Bill Nighy, que é também esplendorosa. Com presença escassa o ator é um clássico “scene stealer”, destacando-se mesmo para lá da competência do elenco em geral. Estes momentos brilham por serem compostos por linguagem puramente cinematográfico, que tiram inspiração do filme mas que não dependem dele para andar.
Assim, acabamos com uma potencial narrativa que não parece preparada para o ecrã. Um passeio agradável pela costa inglesa e pelo amor aos livros, mas um que não vou lembrar daqui a uma semana
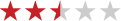
Raquel Soares

