
If I didn’t have a dime, and I didn’t take the time
To play the juke box
Whoa-o-o Saturday night would have been a
Sad and lonely night for me
And if you weren’t standing there
Ruby lips and golden hair, beside the juke box
Whoa-o-o I’d have lost my chance to hold
You while you danced with me, umm hum
Gene Pitey, If I Didn’t Have a Dime (To Play the Jukebox)
Adaptação da obra homónima de Ryû Murakami, Piercing é o novo filme do cineasta Nicholas Pesce, ele que nos tinha oferecido em 2016 The Eyes of My Mother (Os Olhos da Minha Mãe) [1], outro projeto onde traumas de infância moldam a construção de personagens psicóticas e reprimidas que expelem as suas perversidades num jogo cruel que tanto pode ser visto como manifestação de poder, como um exalar de fragilidades de uma educação lancetada de moral e de convivência social.
E Pesce, tal como no seu filme anterior, tem um enorme cuidado com a estética, com a luz, os planos, e a música, usando-os como adereços que dão uma maior densidade a personagens profundamente marcadas e que procuram através da dor uma resposta para as suas vidas disfuncionais e de sofrimento.
E se a obra de Murakami foi lançada em 1994 e tem réplicas facilmente identificáveis no Cinema japonês, como por exemplo em Takashi Miike (Audition também se baseia num trabalho deste autor), o filme de Pesce ambienta-se algures nos anos 70, com os elementos visuais a absorverem a narrativa, criando prisões e encarceramentos às personagens, mas sendo igualmente cúmplices das suas manifestações de barbárie, sadomasoquismo e prazer.
Reed (Christopher Abbott) é a nossa peça central, um pai e psicopata em potência, que resiste ao desejo de assassinar a sua filha bebé com um picador de gelo, planeando antes um assassinato – enquanto é comandado por vozes. Os primeiros planos de Pesce mostram uma personagem cercada por pequenos espaços, como que enjaulada pelos seus desejos cruéis, aprisionada em desejos perversos reminiscentes de memórias antigas que cuidadosamente expõe num pequeno caderno.
Partindo para um hotel para um “fim de semana de sonho”, este homem recria – de forma metódica e obsessiva – todos os passos do crime que pretende executar: o receber a vítima, o ato de a deixar inconsciente, o arrastar para a casa de banho, o seu desmembramento, a limpeza de qualquer marca da sua presença no local, e o voltar para a beira da sua esposa (a catalã Laia Costa, de Victoria [2]), a qual parece estar totalmente alienada de toda aquela descida aos infernos do companheiro. Pesce, antes de se tornar completamente explícito e gráfico nas imagens, usa de forma esplendorosa o som e os gestos para – através da sugestão – embutir o espectador no ambiente e neuroses retorcidas de Reed.

Claro que quando chega a “vítima”, Jackie (Mia Wasikowska), uma prostituta, os planos cuidadosamente trabalhados por Reed começam a ruir e a ganhar uma imprevisibilidade que condiciona e destrói o seu plano “perfeito”. É que Jackie é – também ela – uma mulher perturbada, o oposto da vítima “inocente” que o nosso cruel assassino tinha em mente. Pelo contrário, ela é uma mulher capaz de viajar com ele nessa descida aos infernos, à procura de significado para os seus desejos e para expulsar o sofrimento interno à custa de ações externas romântico-sádicas.
É no conflito entre estas duas figuras tortuosas – ou quiçá companheirismo e parceria – que o filme de Pesce se assenta, com o espaço e todo o ambiente transmitido pelo design a funcionarem como uma personagem, onde um telefone, uma alcatifa e outros elementos decorativos – que primam pelos tons bege, castanhos, vermelhos escuros que transpiram os anos 1970 – a servirem na perfeição para camuflar todo um crescendo de violência e “resolução” que o filme assume.

E embora o realizador e argumentista caia em certos momentos em explicações excusadas (teria sido interessante ele manter-se no registo da sugestão), a verdade é que as suas recriações fantasmagóricas, surreais e horrendas do passado da personagem (entre o sonho e a realidade), incutem um visual muito poderoso, que afastam-no do seu primeiro filme, mas representam simultaneamente uma continuidade de alguém que quer marcar o seu território dentro da linguagem cinematográfica com guiões com relativa profundidade e bastante truculência.
Por isso, e como diz uma das músicas de Gene Pitey que se ouve a meio do filme, Piercing é “Half Heaven, Half Heartache”, um intenso e macabro retrato de linhas ténues entre sofrimento, dor, resolução e prazer, e onde nem falta ainda um toque musical de Claudio Simonetti e Cipriani Stelvio, como que lembrando que há por aqui muito Giallo no tom e referências.
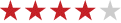
Jorge Pereira
(Crítica originalmente escrita em janeiro de 2018)