
A esta altura do campeonato torna-se difícil separar Darkest Hour de um outro olhar sobre a crise de Dunquerque. Sim, refiro ao homónimo filme de Christopher Nolan, o qual tantas maravilhas foram dirigidas por esse Mundo fora. E nesse “concurso opinativo”, o mais recente filme de Joe Wright sai a perder no senso comum por simplesmente emanar a dita biografia classicista, erguido, como é o costume, pela omnipresença do seu ator principal.
O conflito bélico em si, encontra-se visualmente ausente, mas verbalmente presente nos discursos dos seus lideres, um campo de batalha torna-se terreno politico que se vislumbra em “horas mais negras”. A assombração da guerra e um homem, o belicista primeiro-ministro Winston Churchill, que se torna na figura-chave de uma nação a passos largos a essa mesma “escuridão”, parecem não ser par para o explicito pomposo de Nolan. Porém, é aí que se enganam.
Darkest Hour é em toda a sua condução (e perdoam-se as aventuras no cinema mais clássico a puxar pela Hollywood “banhada” pelos seus ídolos de ocasião), um filme pacifico com a nossa imaginação. Um retrato de um Reino Unido como uma ilha em pés de guerra, onde as verdadeiras “trincheiras” residem a milhas de distancia, mas é com as suas invocações verbais que o espectador é engolido por esse cenário sugestivo (apenas relembrado por pequenos detalhes sem a afiambrada explicitude).
Enquanto isso, Wright deixa-nos antever um aprumo técnico, a começar pela primeira sequência onde um picado navega por entre o parlamento inglês, causando uma extensão à sensação de conflito interno, o plano geralizado que dá lugar a um dinâmico conjunto a servir de preparativos para a enésima esquematização biográfica (recordamos a natureza teatral injetada num outro parlamento em Lincoln, de Spielberg). A luz, as sombras, tudo incluindo na fotografia de Bruno Delbonnel jogam a favor da avizinhada ansiedade e, em conformidade, a banda sonora rompante de Dario Marianelli assume o inicio de batalha como um rufar dos tambores (o tão profético confronto encontra-se ao virar da esquina).

Obviamente, que Darkest Hour funciona como um objeto de requinte e de alguma classe no seu vigor vintage, e Gary Oldman é par para esse desafio, não fosse o facto da obra o apropriar como a sua força-motora. Apesar do “boneco imitador” que o ator contrai nesta sua composição (como os votantes e academistas tanto adoram premiar), é nessa coerência histórica indiciada na sua interpretação o qual Joe Wright trabalha como um vetor, o resto vem por acréscimo.
A certo ponto, sentimos esse classicismo a estorvar a seriedade do filme. Vejamos a sequência decorrida no metro, onde Churchill entra em contacto com os seus eleitores, acompanhado por um “belo” discurso de empório patriótico, e de inspirada manipulação para nos dar a ideia de que o “povo é quem mais ordena” naquele cenário sociopolítico. Enfim, rasteiras e mais rasteiras que não condenam de todo este Darkest Hour, mas o enfraquecem frente ao leque de biopics da award season.
Mas em relação ao outro Dunkirk, a dominância das palavras e o uso sugestivo do trabalho de Wright adquirem uma dimensão fulcral e menos jubiloso em relação a tão proclamada obra de Nolan. E, verdade seja dita, puxando para trás, em 2007, Joe Wright conseguiu em 5 minutos aquilo que o outro não conseguiu em hora e meia. Nem sempre a quantidade é sinonimo de qualidade.
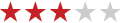
Hugo Gomes