
Os primeiros minutos são reveladores quanto aos propósitos desta obra, tal como as legendas que eventualmente surgem indicam: este é um filme dedicado às mulheres corajosas, mas essa audácia resume-se a uma em particular – Joy Mangano.
Mãe solteira de três filhos e com uma família que mais parece um estorvo, a italo-americana tornou-se em 1990 numa influente estrela das televendas, começando por vender um produto criado por si – “a esfregona milagrosa” – até se transformar numa “rainha” de um império empresarial bastante próprio. Ou seja, este é um filme orquestrado sob intenções feministas através de uma história à lá Cinderella, que até poderia funcionar. Só não funciona porque existe um homem no centro desta “adaptação”. Esse homem é David O’Russell, que pode bem ser considerado aquele tipo de realizadores que a Academia tanto venera, mas que se mostra incapaz de fazer, verdadeiramente, um grande filme. Todos os seus êxitos foram gerados sobre a força do seu elenco, o que evidencia a sua verdadeira capacidade: a de ser um exímio diretor de atores.
Em Joy, o artesão demonstra novamente a sua grande falha: é tão senhor do seu umbigo que não consegue domar uma narrativa ou contar uma história sem qualquer tipo de distrações regidas pelos devaneios artísticos. Até porque, e nisso sente-se em toda a sua obra, as suas aspirações a grande cineasta falam mais alto que a sua autêntica personalidade cinematográfica. Mas é com Joy que nos deparamos com outra disfuncionalidade, ou um verdadeiro calcanhar de Aquiles que se adivinha ser a verdadeira morte do artista: a sua paixão e admiração por Jennifer Lawrence torna-o cego em relação ao resto das personagens e atores.
Nisto, estas fragilidades complementam-se num verdadeiro desastre artístico, tudo porque simplesmente, na mente de Russell, Joy funciona como uma cinebiografia pouco convencional que foge a “sete pés” do próprio conceito. Por outras palavras, evita o esquematismo e os lugares-comuns que minam os dispositivos narrativos do mesmo subgénero. É nesse aspeto que o realizador transforma a história de uma mulher que luta pelo seu lugar num mundo predominantemente masculino num amontoado de referências e influênciasque conduzem a narrativa para outros caminhos difíceis de percorrer para quem não possui “pés” para o fazer.
De novo às aspirações, Russell comete o pecado de polvilhar a jornada de Joy numa clara alusão ao cinema surreal ou modernista. Traços esses que soariam cómicos, não fossem eles verdadeiramente dramáticos. Entre as espreitadelas, o realizador encontra uma certa teatralidade nas soap operas que o filme simbolicamente esboça como um “escape” à realidade direcionada às donas de casa, impedindo-as de enveredar por horizontes mais longínquos. Contudo, essa soap opera tem muito de Resnais, e um certo clássico seu – O Último Ano em Marienbad. Uma referência que funcionaria se o realizador soubesse ler o livro de instruções.
Ainda assim, apesar de Joy ser o seu pior filme em anos (nem vamos referir Amor Acidental), é agradável ver um ator como Robert De Niro reencontrar a sua dignidade em mais uma colaboração com o cineasta. Pena é, como já dissemos, que o realizador pareça só ter olhos para Lawrence (numa prestação esforçada), esquecendo que existe verdadeiramente um elenco por trás e com isso, muitas mais personagens.
Não, não é “alegria” (Joy) que vamos encontrar aqui, definitivamente, nem mesmo aquela mensagem feminista que o filme quer auferir.
O melhor – A prestação de Jennifer Lawrence, o “refúgio” de Robert De Niro
O pior – a narrativa trapalhona e presunçosa, o foco exclusivo em Lawrence e na sua personagem.
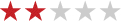
Hugo Gomes

