
Com o México transformado em zona de guerra pelas lutas de cartéis rivais há alguns anos, foi o grupo conhecido como Los Zetas quem, afinal, inventou um “genial” golpe de marketing para aterrorizar quem ainda não o estivesse: cortar membros, particularmente cabeças, dos seus inimigos. Incluindo dezenas de mulheres “suspeitas” nos massacres, eles penduravam os cadáveres em pontes, às dúzias, e difundiam as imagens na internet. O recado que os seus adversários perceberam foi: se quisessem sobreviver, eles teriam que fazer pior. Depois do mosaico mais genérico e clean de Steven Soderbergh em Trafic, foi Oliver Stone a deixar-se fascinar pela loucura inerente deste apocalipse now – embora em Savages uma técnica exuberante e uma mostra eficaz de um novo nível de violência estivesse a serviço de uma ideologia demasiado duvidosa.
A abordagem estética aqui é mais radical e a própria história é escorregadia: Kate Macy (Emily Blunt) é uma agente federal que se voluntaria para uma missão contra o narcotráfico mexicano. Mas, se o objetivo final das operações é idóneo e visa atingir o coração de um poderoso grupo do narcotráfico, o trajeto até ele nem por isso. Lidando com um ardiloso comandante (Josh Brolin) e seu sinistro parceiro (Benicio del Toro), ela parece fadada a ser o bobo da corte de um mundo cujas regras diluíram-se num sem fim de ilegalidades (ocupação territorial, tiroteios entre civis, sequestros, alianças com criminosos) e onde os moralismos e as certezas fáceis esbatem-se diante da crueza devastadora da realidade.
O filme começa com uma blitz policial no sul dos Estados Unidos que até poderia constar em alguma boa série televisiva. Mas quando as câmaras de Denis Villeneuve avançam para um longo voo sobre a fronteira entre os dois países para a seguir percorrer Ciudad Juárez, Sicario mostra aquilo que é – e, principalmente, o que não é.
Por outras palavras, a ação demora a acontecer: em vez de tiros, ou antes deles, pelo menos, o realizador mostra outra coisa – uma visão interior, pausada e sufocante, de um mundo dilacerado. Toda a sequência nas ruas da cidade, com filmagens a partir do interior dos carros auxiliados pela intensa banda sonora de Jóhann Jóhannsson, é um passeio de imersão no espírito de uma localidade que já foi há cinco anos a mais violenta do mundo. O caráter quase surreal do cenário é oferecido não meramente através dos seus crimes, que aparecem de forma ostensiva, mas também da sua vastidão, da sua pobreza e do seu permanente estado de sítio.
Por estas alturas fala-se num spin off com o Alejandro de del Toro. Erro crasso de perspetiva: a personagem mais fascinante desta obra é a de Blunt, num retrato feminino pouco usual no cinema comercial – onde a noção tosca de “igualdade” pressupõe que as mulheres devam saber dar socos e pontapés com a mesma eficácia que um homem. Se Sicario não traz uma história politicamente correta, tampouco se recusa a vender o heroísmo banal das “agentes duronas” assexuadas de rotina. Mais que isso, Kate é o elo de humanidade que conecta emocionalmente o espectador com o que se está a passar, mas também onde o realismo da sua existência física (referida a partir da cena irónica quando seu amigo diz que ela devia “comprar um novo soutien“) não a deixa de meter em apuros numa das melhores sequências do filme, quando cede a um homem que conhece num bar.
Villeneuve aparece para mais uma vez demonstrar que está bem pouco interessado em desaparecer na névoa dos filmes-de-produtor de Hollywood. Nesta abordagem superior do mundo do crime, onde a realização insiste nos closes, nos ambientes fechados e na tensão interior, não há espaço para redenções. Se a do assassino nada mais é o do que o fim de uma história fadada a recomeçar, este caráter cíclico é reforçado pela pungente história do policial mexicano Sílvio (Maximiliano Hernández) e seu filho (Jesus-Nevarez Castilho) – de onde depreende-se um pesadelo destinado à eternidade.
O Melhor: Abordagem superior do mundo do crime; Emily Blunt
O Pior: Sicario é uma “colagem” de cenas dispersas e a narrativa nem sempre é fluída
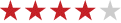
Roni Nunes