
Exibido em competição no passado festival de Cannes, “Jimmy’s Hall/O Salão de Jimmy” é um daqueles filmes que nos deixa uma agradável sensação, tal como um vazio por não chegar a preencher totalmente o estatuto que, porventura, esta história mereceria. É pena, pois a sua genuína militância marxista pelo ideal de partilha social acaba por sair, digamos, ofuscada por um registo demasiado ‘clean’ e, por isso mesmo, menos credível. Ou seja, paredes meias entre a perfeita comunhão e um mero esboço político-social.
A uma Irlanda dos anos 30, em que os conflitos umbilicais se encontram relativamente pacificados, retorna o autor e ativista político Jimmy Gralton (Barry Ward) após exílio em Nova Iorque. Depressa é encarado pela comunidade como a esperança de reaver o único local em County Letrim onde se pode ouvir boa música, dançar, praticar boxe, bem como aprender vários ofícios ligados à cultura.
Ao retomar a atividade e colocar o brilho nos olhos de grande parte da população, Jimmy recupera também o amor antigo de Oonah (Simone Kirby), tal como a desconfiança do padre Sheridan (Jim Norton), a autoridade católica da região e auto intitulado brando educador das almas. Ele mesmo que lançará o repto: “Estão com Deus ou com Gralton?”, ao mesmo tempo que do alto do púlpito se interroga pela razão “desta procura pelo prazer”, para em seguida divulgar uma “lista negra” daqueles que ousaram penetrar em tal antro de perdição. Assim mostra Loach as feridas nunca fechadas entre uma sociedade dividida, sublinhando até o extremo a que chega uma das personalidades locais ao chicotear a filha por se entregar a tais ritos de descontração.
Seja como for, um dos problemas que mais afeta este “Salão” é forma idealista e conceptual como Loach desenha as personagens, vistas mais como um arquétipo e menos na sua real dimensão. Como se a dupla (realizador e argumentista Paul Laverty) estivesse demasiado apaixonada pelo conceito e as personagens, esquecendo-se de as dotar de arestas, de falhas, de credibilidade.
Algo que se estranha pois Ken Loach será provavelmente o realizador britânico mais coerente no seu perfil de cinema comprometido com a realidade e ativismo social, ao que a longa colaboração com Laverty tem ajudado a sintetizar. Seguramente incontornável no documentário de 2013, “The Spirit of 43”, nessa análise profunda da oportunidade perdida do seu país ter seguido a muito louvável via do Estado Social. Apesar da entrega de Barry Ward, Gralton raramente ultrapassar o esboço de protagonista. Antes é-nos apresentado como um homem sem defeitos, liso, mas igualmente plano. O mesmo se diga de grande parte das personagens, todas elas demasiado pensadas em representar grupos e menos indivíduos. Talvez o único a escapar a esta maldição será – ainda que de forma algo paradoxal -, o próprio padre Sheridan, capaz de admitir o qualidade dos ritmos jazzy ou mesmo de referir, já no final, que poucos na sua comunidade teriam a nobreza dos ideais de Gralton.
É claro que nos tempos que correm existe alguma pertinência nos princípios de Loach, embora nos interroguemos porque o filme se fica pelas intenções. Talvez o exemplo mais acabado seja o episódio em que um grupo se dirige a um latifundiário para impedir o despejo de trabalhadores rurais das suas terras. Tudo muito bonito do ponto de vista de época, tudo muito revolucionário, mas também menos credível.
O melhor: Seguramente, o assumido espírito da partilha comunitária social e cultural.
O pior: A ausência daquela centelha de realismo a que Loach tão bem nos habituou.
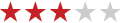
Paulo Portugal

